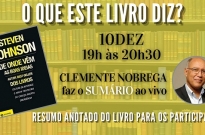Quero você – Parte I
Por que algumas marcas exercem um fascínio perene sobre nós? Esqueça o produto. É tudo uma questão de mente. A grande marca ocupa a nossa mente. Não somos nós que a escolhemos. É ela que nos escolhe.
“Propaganda que manipula você fazendo-o acreditar que você é o tal,
Que pode fazer o que nunca foi feito…
Que pode vencer o que nunca foi vencido…
Enquanto isso, a vida lá fora passa por você.”
Bob Dylan, em “It’s alright Ma (Im only bleeding)”.
“Há alguém dentro da minha cabeça, mas não sou eu…”
Pink Floyd, em “Brain Damage”.
Dizem que Marketing são 4Ps: Produto, Preço, Promoção e Ponto (ou canal) de venda.
Isso pode ter sido verdade um dia mas, hoje, marketing, cada vez mais, se escreve só com o P de percepção. Peter Drucker disse uma vez:
“Marketing e inovação são as únicas funções básicas em business. Marketing e inovação produzem resultados, todo o resto são custos”.
Isso foi, é, e creio que será sempre verdade. Porém, marketing não significa mais o que significava e é vital entender a exata dimensão da coisa. Temos de nos acostumar a perceber, por outro ângulo, a mais central das atividades de qualquer empresa.
A matéria-prima do marketing é a mente. Quer fazer marketing? Esqueça o “produto” e comece pela mente humana. Lições instigantes seguem-se daí, e a mais intrigante delas é sobre o conceito de marca: a boa marca não é aquela que você escolhe; é ela, a marca, que escolhe você. Não é jogo de palavras, é apenas uma das noções que temos de aprender a reperceber. Quem pode explicar a coisa não é Freud, Drucker nem nenhum marketeiro genial – é Charles Darwin, o verdadeiro patrono do marketing.
Marketing é o que se tem de fazer para que algo seja comprado.
Esse “algo” pode ser um produto, uma idéia, um político… qualquer coisa. Pode ser até você mesmo.
Não há por que complicar uma definição simples.
É tão simples, vale para tantas coisas, aplica-se a uma variedade tão grande de circunstâncias que… bem… dá a impressão de não servir para nada. Mas se a definição é simples, fazer acontecer não é. Nosso desafio é chegar a um entendimento da coisa que seja útil e que inspire. Honestamente, não gosto do que leio por aí sobre isso, e vou tentar contribuir para o debate. Este artigo é sobre isso.
Em Exame de 24/02/1999, Peter Drucker diz:
“O marketing ensina que são necessários esforços organizados para levar uma compreensão do ambiente externo – da sociedade, da economia e do cliente – para o interior da organização…”
Tudo bem. Trata-se de uma definição acadêmica. Os cursos de marketing sempre começam com esse tipo de papo; ninguém discorda. O mais problemático (e até perigoso) vem a seguir:
“No entanto, o marketing raramente desempenhou essa tarefa grandiosa. Em lugar disso transformou-se numa ferramenta de apoio às vendas. Ele não começa perguntando: quem é o cliente, mas sim o que queremos vender. É direcionado a conseguir que as pessoas comprem as coisas que você quer produzir. Isso significa virar as coisas pelo avesso. Foi assim que a indústria americana perdeu o ramo dos aparelhos de fax. A pergunta deveria ser: como poderemos produzir as coisas que os consumidores querem comprar?”
Por que perigoso? É que da maneira como a coisa está colocada, dá a impressão de que: ou o cliente sabe o que quer comprar, ou de que há algum meio de se descobrir isso a priori. Não sei se o leitor concorda, mas se é isso mesmo o que Drucker quer dizer, hmmm… não sei não.
Não quero provocar polêmicas tolas, muito menos ser desrespeitoso, mas acho essa questão essencial para o entendimento do mundo das empresas. Será que se pode realmente implementar isso de: “entender o que o cliente quer, e agir de acordo”? O mestre me reprovaria, pois estou convicto de que isso não é possível. Inventar algo e dar um jeito do cliente querer esse “algo” talvez seja a essência da coisa. Marketing se resume a esse “dar um jeito”.
Não há um único caso relevante de produto revolucionário (nem o aparelho de fax que Drucker tanto gosta) que tenha sido fruto de investigação distanciada (focus group, pesquisa de mercado.) para detectar desejos e necessidades.
O cliente, em todos os casos que interessam na prática, não tem a menor idéia do que quer comprar. Se for perguntado, não sai da lengalenga habitual: “Quero o melhor produto do mundo pelo menor preço”. Isto é: primeira classe a preço de classe econômica. Como você sabe leitor, Papai Noel não existe em business.
Se houvesse uma forma sistemática de se responder à pergunta: “como produzir as coisas que os consumidores querem comprar?”, todas as empresas do mundo a estariam usando. Dizendo o que disse, Drucker não ajuda a mudar a situação que critica. Ele não gosta do marketing como “apoio a vendas”, mas como, concretamente, ir além disso?
Numa cena do filme “A vida é bela” (que Peter Drucker não deve ter gostado), Guido, o personagem principal interpretado pelo ator Roberto Benigni, dá uma aula sobre a velha arte de vender. Guido é o garçom, já é tarde e o restaurante está prestes a fechar. Chega um figurão querendo jantar mas só há um prato disponível. Guido assume o papel do vendedor clássico e aborda o cliente com uma conversa mais ou menos assim: “O que o Senhor prefere? Carne de porco imersa em gordura, frango de anteontem com amêndoas duras ou um excepcional salmão fresco com batatas.?”
Desejos e necessidades do cliente? Não, o cliente induzido a escolher de acordo com a minha necessidade. Chame de manipulação se quiser, eu prefiro chamar de persuasão. É preciso talento para fazer o cliente comprar o que eu tenho para vender e ficar feliz com isso; eu não minimizaria “apoio a vendas”. Não duvide: um vendedor como o Guido do filme teria lugar em qualquer empresa.
Marketing é sobre a natureza humana
Há outro lado. Sim, manipulação no pior sentido também existe. A propaganda é culpada, sem dúvida, por criar desejos supérfluos, mas a coisa é muito mais sutil do que pode parecer. Na sociedade pós-industrial globalizada de hoje, não há quem possa definir o que é supérfluo. Aliás, nunca foi possível. O supérfluo logo se transforma em necessidade. Há 60 anos refrigeradores e telefones eram luxos. Para o governo americano, 93% das pessoas oficialmente classificadas como pobres têm TV a cores, e 60% delas têm vídeo cassete e forno de microondas. Não se fazem mais pobres como antigamente.
Não há leis de Newton no mundo das empresas, por isso é perigoso fazer afirmações que se pretendam definitivas. É comum passarmos a repetir conceitos e idéias das quais, à primeira vista, ninguém discordaria, mas que são: ou triviais (“ouça o cliente”) ou enganosas (“pergunte o que o cliente quer”) ou simplesmente suicidas (“faça o que o cliente quer”).
Al Ries – um de meus marqueteiros favoritos – chama a atenção para isso lembrando uma cena do filme Patton. O general (representado pelo ator George C. Scott), falando para seus comandados antes de uma batalha importante, diz:
“Lembrem-se de que nunca nenhum bastardo jamais ganhou qualquer guerra morrendo pelo seu país. Guerras são ganhas fazendo os idiotas do outro lado morrerem pelo país deles.”
Perfeito, mas é precisamente o inverso do discurso usual.
Veja outra: dizem que o sucesso está dentro de você, que se você acreditar em você ele virá. Mas o sucesso realmente está é fora de você. Alguém, que não você, tem de acreditar, se não caro leitor, você será um perdedor, mesmo que tenha uma fé granítica em si mesmo. Lá fora há milhares de pessoas infelizes comprando livros de auto-ajuda e deixando cada vez mais felizes os autores desses livros. Eles, autores, são um sucesso, as pessoas que compram seus livros não. É irrelevante se os autores acreditam ou não neles mesmos, o importante é que outros acreditem, não é lógico?
Da mesma forma, há milhões de empresas que, acreditando “ter o melhor produto”, ficam tentando convencer as pessoas a comprar delas porque, afinal, bem… elas sabem que têm o “melhor produto”. Todas são ou serão perdedoras. É o cliente que tem de achar isso. Outra opinião não conta nada aqui.
Em administração é fácil comprar gato por lebre, porém, se não há leis de Newton, há verdades eternas aqui também, e uma delas é sobre a natureza do marketing. Administração é cada vez mais marketing; só marketing; nada mais do que marketing. Há quem ache que são finanças, controles, otimizações, reengenharias. Discordo. Se já foi (e tenho minhas dúvidas), não é mais.
De uns tempos para cá passou-se a valorizar o executivo que enxuga, corta custos, demite, otimiza, racionaliza… Paga-se milhões por isso, mas não é preciso ter qualquer talento especial para cortar. Qualquer um corta. Qualquer dona de casa domina o básico de “controles”. Esse lado da administração é pouco mais que prendas domésticas. Ok, ok, deixa eu ir devagar. Prometi a mim mesmo não exagerar: housekeeping soa melhor? Parece mais digno mas é a mesma coisa. Prendas domésticas.
Marketing é que exige talento. Marketing é sobre clientes.
Não. Errado. Marketing é sobre pessoas. É sobre a natureza humana.
Desculpe se soa muito bombástico, mas é isso mesmo.
Marketing, para mim, é sim, o que você tem que fazer para que o cliente compre seu produto hoje, e inovação, o outro pilar da saúde empresarial, é o que garante que eles vão continuar comprando de você amanhã. Portanto, rigorosamente, o que conta, hoje e amanhã, é marketing. Inovação é pré-condição para que você continue no jogo. Tudo é Marketing.
É o produto que cria a necessidade
Se você der um “replay” (de alguns milhões de anos) na fita da evolução tecnológica, vai chegar a um único “artefato”, a partir do qual todos os demais evoluíram: o cérebro, ou melhor, a mente humana. É essa a matéria-prima do marketing como veremos. E mais: vai ver que, da machadinha de pedra lascada ao microchip, a mente não cria com base em necessidade, cria com base em alguma outra coisa. O que seria? Dou uma pista: o ser humano adora o supérfluo.
Em “The Evolution of Technology” (Cambridge University Press,1988), um livro que todo pretendente a marqueteiro devia ler, George Basalla diz o seguinte:
Tecnologia não é necessidade para o animal humano. O filósofo José Ortega y Gasset, define tecnologia como a produção do supérfluo, e ela foi tão supérflua na idade da pedra como é hoje. Como todo o resto do reino animal, nós também poderíamos viver sem fogo ou ferramentas. Cultivar o solo e cozinhar alimentos não são pré-condições para a sobrevivência humana, só são necessidades porque decidimos definir nosso bem-estar de modo que os incluísse.
(…) Começamos a cultivar a tecnologia e, no processo, inventamos o que acabou sendo conhecido como vida humana, (…) ou bem-estar. A idéia de “bem-estar” certamente engloba a de necessidade, mas essas necessidades estão constantemente mudando. Houve um tempo em que necessidade levou à construção de pirâmides e templos, em outro significou movimentar-se em veículos auto-propulsores pela superfície da Terra, depois foi a destruição de cidades por incineração e irradiação e as viagens espaciais.
Cultivamos tecnologia para satisfazer às nossas necessidades percebidas, não a um conjunto universal de necessidades determinadas pela natureza. De acordo com o filósofo francês Gaston Bachelard, a conquista do supérfluo nos dá mais estímulo espiritual que a conquista do necessário, porque os humanos são criação do desejo, não da necessidade.
O automóvel não surgiu da necessidade de nos locomovermos com mais praticidade e rapidez. Nos primeiros dez anos, entre 1895 e 1905, carros eram brinquedos para ricos. Não havia necessidade alguma deles. Necessidade só surgiu depois que o produto já estava lá (há 10 anos!). E esse não é um caso isolado, é o caso geral.
A regra é: o produto é que inventa a necessidade!
Mesmo as histórias clássicas de inovação tecnológica trazem essa verdade suprema embutida: não pergunte ao cliente porque ele não sabe, e como você também não sabe, faça o que acha que deve e fique atento à maneira como seu produto vai sendo percebido. Modifique-o se necessário, e vá em frente. Quer dizer: integre o cliente ao processo de desenhar o produto. Aprenda junto com o cliente.
Os grandes inventores muitas vezes não sabem exatamente para que fins as pessoas vão usar aquilo que estão inventando. Inventam por instinto. Curiosidade. Fantasia. Brincadeira. Thomas Edson não sabia o que o fonógrafo iria se tornar quando o inventou em 1877. Para ele seu uso deveria ser, pela ordem: registrar ordens sem ajuda de estenógrafo; fornecer “livros falados” para os cegos; ensinar a falar em público; reproduzir música; registrar as últimas palavras dos moribundos, e por aí vai. Reproduzir música era sua quarta prioridade, pois ele achava que isso seria uma coisa muito trivial para se fazer com sua máquina. Mesmo quando entrou no negócio de fonógrafos, ele resistia a usá-los para reproduzir gravações, preferia que eles fossem máquinas de ditar.
Claro que isso inverte totalmente certas noções e exige que tenhamos talento para reperceber muitas coisas que achávamos que sabíamos, mas não é esse precisamente o desafio maior dos tempos em que vivemos?
No final do século passado, quem observasse a paisagem dos grandes centros urbanos nos Estados Unidos veria carroças, cavalos e estrume. Não havia estradas decentes; não havia postos da gasolina, sinais de trânsito, indústria de auto-peças, asfalto… O que havia era um forte mau cheiro no ar.
Já tinham inventado uma engenhoca motorizada a que chamavam automóvel, mas ninguém sabia direito como essa “coisa” iria ser, nem se as pessoas iriam comprá-la. Provavelmente, pensava-se, iria se tornar uma espécie de brinquedo para os ricos. Algo para se manter na garagem e dar uma volta no quarteirão no fim de semana.
Então, aparece um engenheiro chamado Henry Ford e declara:
“Vou fabricar automóveis para o homem comum não para os ricos. Vou produzi-los em grandes quantidades segundo um “molde” definido e preciso. Meu método de produção vai torná-lo barato o suficiente para que qualquer pessoa que tenha um salário decente possa ter um. Todo mundo vai poder desfrutar, com sua família, das bênçãos de horas de lazer nos grandes campos abertos de Deus”.
O sonho da liberdade a preço baixo. Em 1908, o Modelo T custava 850 US$ e foram vendidas 5.986 carros. Em 1916 o preço caíra para 360 US$ e foram vendidos 577.036 carros. Em 1925 a maioria das famílias americanas tinha um carro Ford Modelo T. O Ford Bigode. Ford não inventara a tecnologia, inventara o conceito (exatamente o que Steve Jobs faria oitenta anos depois com o computador pessoal). A idéia de Henry Ford infectou as mentes de milhões e milhões de pessoas. Começava a era do automóvel.
(Fonte: The History of Mass Marketing of America – A História do Marketing de Massas nos Estados Unidos; Richard Tdlow – Basic Books, 1990.)
Um mito perigoso. Cuidado!
A figura do inventor genial, aquele que tira coisas revolucionárias da cartola, não existe no mundo real. Nem Thomas Edson fez isso, nem ninguém. Pode apostar: há sempre um artefato mais primitivo que serve de embrião para o mais complexo. Até a roda surgiu por evolução de um design que já estava lá antes. O que Ford fez foi reconfigurar um produto que já existia, apelando para uma fantasia eterna – a da liberdade.
O mito do inventor genial é pernicioso para quem se interessa por marketing pois leva diretamente a outro que atrapalha demais as empresas: o mito do marqueteiro genial – aquele que inventa produtos e estratégias revolucionárias que quase sempre passam em branco, mas que sempre produzem um rombo no bolso de quem os contrata. Deplorável. Voltaremos a esse personagem.
Já houve um tempo em que a empresa podia ser vista como uma entidade “lá fora” – separada do mercado. Ela investigava objetivamente, coletava informações e entendia o que o tal “mercado” queria. Isso acabou. Uma das características do futuro é que não há como manter essa separação. A empresa tem que aprender junto com o cliente. O produto é projetado em conjunto pela empresa e pelo cliente, e vai tomando forma, passo a passo, à medida que ambas aprendem. Co-evoluem. É impossível fazer diferente. É impossível saber antes e, mais que isso, eu diria que é um enorme equívoco perder tempo tentando chegar antes a algum tipo de certeza. As razões para isso já foram mais que dissecadas: o processo em que estamos envolvidos tem uma dinâmica que não nos permite mais isso. O cliente não sabe o que quer e a empresa tem que experimentar, até entender, junto com ele, seus desejos e necessidades. Desejos e necessidades emergem no processo, não são pré-definidos.
Drucker gosta do aparelho de fax, mas essa máquina não foi o primeiro artefato tecnológico inventado por americanos e posto em uso pelos japoneses. Muito mais dramático foi o caso do transistor cuja patente foi comprada por quase nada à Western Eletric americana, por uma empresinha japonesa chamada Tokyo Tele Communications que, no pós-guerra, fabricava pequenos fogões elétricos para cozinhar arroz. Com o transistor na mão fabricaram em 1955, o primeiro receptor de rádio pocket size, e mudaram o nome da empresa para Sony. O rádio Sony não foi o primeiro rádio miniatura transistorizado – fora a empresa americana Regency que fizera isso, mas foram os japoneses que mostraram ao mundo o que poderia ser feito com o produto que os americanos tinham inventado.
Além do mais, desculpe perguntar, qual a importância de aparelhos de fax em si? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas aparelhos em geral, no final do século XX, não são big deal. A economia hoje não é sobre comunicação. A economia é comunicação. O importante é a comunicação que o fax possibilita; a participação numa rede. O preço de aparelhos de fax (e as margens correspondentes) não param de cair, mas o valor que se obtém por se estar em rede com outros aparelhos não pára de aumentar. Acontece com tudo o que tem a ver com comunicação, como telefones e computadores. O que importa não são os aparelhos, é a rede da qual eles são os nós. Aparelhos, sejam faxes, telefones ou antenas de TV por satélite, deveriam ser de graça e provavelmente acabarão sendo. Como diz Kevin Kelly: “Quando você compra um aparelho de fax, não está meramente comprando uma caixa de 200 US$, você está comprando a rede constituída por todos os outros aparelhos de fax do mundo, e isso vale muito mais que 200 US$”. Em outras palavras: a grande oportunidade de marketing está em entender e explorar a dinâmica da rede com todas as suas (enormes) potencialidades, não no produto que viabiliza a conexão. Modems são aparelhos “fáceis”; conectar-se é simples, mas a dinâmica dos negócios na Internet é difícil. Aí é que está o desafio.
Outra regra geral de marketing no futuro que já chegou é: para vender seu produto, você não pode por seu foco nas qualidades intrínsecas dele. O produto já era.
O fim de uma idéia: o produto morreu
Foco no produto é totalmente equivocado porque todo mundo hoje tem o “melhor produto”. Se você não inventar aquela droga milagrosa que elimina calvície em 24 horas, ou o Viagra, ou a máquina do tempo, pode esquecer. Foco no produto é coisa da era da chaminé. Até computador já era. Computador isolado – stand alone – virou liquidificador. Preços e margens caindo. Uma mercadoria banal. De novo: o que tem valor é o computador conectado a outros computadores.
Henry Ford não inventou o produto automóvel, inventou um conceito para algo a que chamavam automóvel. Depois foi atropelado pelas idiossincrasias da mente humana, porque seu “automóvel” deixou de ser importante.
Quando aparelhos, e “coisas” em geral, deixam de ser importantes, o que passa a contar é alguma outra coisa. O que seria?
Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, os números da Ford Motor Company eram assombrosos. Henry Ford inventara um conceito. Porém, marketing – essa coisa de fazer as pessoas comprarem o que você tem para vender – tinha sido praticamente inexistente para a empresa. O conceito de Henry Ford se concentrava no apelo do preço. Qual seria o limite mínimo a que a Ford poderia chegar? Em 1924 seu lucro fora de mais de 82 milhões de dólares, mas desse total só cerca de quatro milhões estavam vindo da venda de carros novos, o resto vinha de peças de reposição e acessórios. Sabe qual era o lucro da Ford por carro novo vendido? 2 dólares!
Pense um pouco no que você sabe, ou ouviu falar sobre Marketing.
Em vez de começar com o consumidor e produzir o carro que ele desejava, Ford bolou um carro que pudesse ser produzido por um preço acessível à maioria. De fato Henry Ford padronizara o consumidor. Todo mundo tinha de querer aquele carro. “Eis aqui o que eu tenho. Compre!” Ouvir o consumidor? Eu, hein!
A Ford achava que o seu negócio era produzir Modelos T. Sua cultura de empresa, seus hábitos, suas enormes fábricas, tudo era para produzir Modelos T. A GM, ao contrário, foi campeã em marketing. Definiu, de modo inverso, o papel do consumidor (como o general Patton, lembra?) Ford padronizara o consumidor. Sloan, o chefão da GM, acabou com isso. Introduziu a idéia de um carro para “cada bolso e cada finalidade”.
Mudou os modelos dos carros todo ano! Sloan percebera que, naquela época, as pessoas não tinham realmente motivo para comprar carro novo, tinham de ser induzidas a isso. Era preciso apelar de outra forma para a fantasia do consumidor, e a GM fez isso introduzindo variedade em modelos, preços, cores e estilos que mudavam todo ano. Alfred Sloan, o idealizador da coisa contou depois:
“O problema dos estilos dos carros era delicado. As mudanças teriam que ser tão atrativas que criassem demanda pelos novos modelos, gerando, por assim dizer, uma certa insatisfação com os modelos antigos por comparação com os novos. Cada linha de carros da GM teria que ter uma identidade na aparência, de modo que se distinguisse à primeira vista um Chevrolet, um Pontiac, um Buick, ou um Cadillac”.
Durante os anos vinte, a GM ultrapassou a Ford tanto em parcela de mercado como em lucro. Por falar em lucro, o seu foi initerruptamente maior que o da Ford de 1925 a 1986 – todos os anos.
(Fonte: The History of Mass Marketing of America – A História do Marketing de Massas nos Estados Unidos; Richard Tdlow – Basic Books, 1990.)
Alguns poderão achar que Sloan “detectou” desejos e necessidades. Não. Ele inventou desejos e necessidades. Marketing cria supérfluos que acabam se tornando essenciais.
O carro, reinventado conceitualmente, agora pela GM, não era mais um objeto, era outra dimensão de fantasia. O negócio não tinha mais nada a ver com automóveis, mas com moda. Fashion. Claro que ninguém realmente precisa de carros vermelhos ou amarelos, mas leitor, esse “realmente” não tem qualquer sentido em marketing. Desejos e necessidades são limitados apenas pela imaginação humana, isto é: não têm limites. Ford dera uma falsa impressão: no fundo ele nada entendia de marketing.
Henry Ford era um homem de produção.
Os descontentes do Marketing
Marketing se implementa partindo da mente humana, não brigando com ela. Já perdi a conta das vezes em que sou interpelado por alguém que discorda “dessa visão cínica e manipulativa” do marketing, que eu, supostamente, estaria defendendo. Bem, você é que julga, leitor. Marketing de fato, em geral, não é “politicamente correto”. Atividades promocionais são quase sempre invasivas. Os anunciantes estão brigando pela sua atenção. Você é puxado, agarrado, por mensagens chatas, sem imaginação, desrespeitosas até. Se você é como eu, deve achar a maioria uma boa droga. Mas vamos entender as coisas direito. Outros profissionais são pagos para tentar mudar a alma humana, você, marqueteiro, não. Você só tem de vender para elas. A alma humana é formada por noções muitas vezes tolas e contraditórias; caprichos, superficialidades, instintos de imitação nada racionais. Tudo 100% humano, entende?
Veja o caso de certos produtos identificados com a classe AA. Qual a regra geral dos marqueteiros? Quem não é rico adoraria ser. Pesquise e todos vão negar. Não acredite, as pessoas mentem muito, sabe?
Um carro de luxo por exemplo. Qual o apelo? “Se os ricos compram deve ser bom, vou juntar dinheiro e comprar um também”. Certo? Não. Errado. Os ricos devem ser imitados pelo que fizeram antes de ser ricos, como Al Ries continua a nos lembrar. Há pouco ou nada a se aprender com eles depois que enriquecem, portanto deixe esse Mercedes para lá e vá se virar. Volte só depois que ficar rico.
É claro que não é isso que ocorre. Os marqueteiros trabalham em cima de nossas contradições, mas não são eles que as criam, eles apenas as exploram.
Marketing é pragmático. É uma atividade comercial que, despida de todas as lantejoulas verbais, se resume a: “compre meu produto”. Nada há além disso. Os campeões de marketing não são campeões porque fizeram grandes planejamentos, nem porque inventaram grandes produtos, ou porque são “criativos”. Não. Campeões são aqueles que fazem o que é necessário para que comprem o produto que eles têm para vender .
Seu produto não pode mais ser projetado por você em isolamento, ele tem que ser experimentado, jogado na rua para ver o que acontece. Se o mundo não disser coisas boas sobre ele tente convencer o mundo. Se não conseguir, arranje outro produto, mude de emprego ou mude de mundo.
Em 1937, a Philip Morris lançou um cigarro para mulheres chamado Marlboro. A propaganda dizia coisas supostamente femininas: “Suave como o mês de maio”. Dezessete anos depois a marca tinha menos de 0.1% do mercado. Isto é: não existia. Aí, em 1954, foi chamado um publicitário de Chicago, Leo Burnett, que fez uma cirurgia de mudança de sexo na marca. Marlboro passaria a ser um cigarro para homens.
O primeiro anúncio mostrava um cowboy, apesar de pesquisas terem revelado que na época havia pouquíssimos cowboys nos EUA. A campanha funcionou. No primeiro ano o novo Marlboro tinha 2% do mercado; 4% no segundo. De lá para cá, a participação do Marlboro só fez aumentar, até 1976 quando se tornou a marca mais vendida nos EUA e no mundo.
A maioria dos publicitários, deslumbrada com o sucesso eterno do Marlboro, passa a vida tentando replicá-lo sem saber direito em que ele se baseia. Ninguém sabe por que a mente humana se deixa invadir assim por certas coisas, que acabam se replicando, invadindo mentes e pulando de mente para mente como parasitas.
(Fonte: Focus: The Future of Your Company Depends on it! – Foco: O Futuro da Sua Empresa Depende Disso; Al Ries – Harper Bussiness, 1996.)
Pegue seu produto e não (nunca!) pergunte antes se as pessoas vão querer comprá-lo. Faça-o ter apelo à mente. Não é o valor intrínseco de nada que decide a compra, é a cabeça. Marketing é subjetivo, não objetivo.
Quem conhece um Macintosh não pode ter dúvida: dá de dez, como produto, nos PCs Windows-Intel. Mas o Mac é perdedor, tem menos de 5% de um mercado em que os PCs “Wintel” tem mais de 80%.
O padrão Betamax para fitas de videocassete era melhor, objetivamente, que o VHS. Perdeu e sumiu.
O teclado de seu computador é tipo QWERTY (as 5 primeiras letras em cima, da esquerda para a direita). Esse padrão é reconhecidamente ineficiente, o padrão de teclados DVORAK é que é o tal. Nunca ouviu falar? Duvido que ainda venha a ouvir. O ergonômico (!?) teclado DVORAK também é perdedor.
“A quem já tem, mais será dado”.
Em marketing, quem bota o pé na porta e abre uma frestazinha primeiro, tem muito mais chance de se dar bem a longo prazo, principalmente em produtos high-tech.
Al Ries diz: “Em marketing é muito mais importante ser o primeiro do que ser o melhor, e é muito mais importante ser o primeiro a ocupar a mente do que o primeiro a entrar no mercado.”
Certíssimo, adiante explico por quê.
Enquanto não chegamos lá, veja outro P: preço.
A era do soft é comunicação, virtualidade, símbolo, intangível. É nessa era que já estamos vivendo, mas nossas cabeças foram formadas pelo oposto disso. O que fez nossas cabeças foram objetos, “ativos”, posses, coisas, recursos. Na empresa todo o discurso é em torno do “recurso”. Tudo é recurso, inclusive gente. Bobagem.
A mentalidade da era industrial baseia-se na lógica de que o escasso é que tem valor. É assim: quanto mais você usa menos resta para ser usado. Minério, petróleo, matérias-primas em geral. A escassez (ou o controle dos tais recursos por parte de poucos) gera aumento de preços, tensões políticas, guerras frias e quentes. Mas na era do intangível, o que conta é informação: o software, a mídia, a comunicação, o entretenimento… quanto mais se usa essas “coisas”, mais valor elas adquirem; o sucesso reforça o sucesso. A lógica econômica disso é precisamente a oposta daquela da era da chaminé. “A quem já tem, mais será dado”. Esse é o mandamento número 1 da bíblia da nova economia. O Windows é um exemplo: quanto mais gente “usa”, mais valor o produto adquire e mais ricos ficam os acionistas da Microsoft. Os estúdios de Hollywood idem. Os bares e parques temáticos idem. É isso o que Kevin Kelly chama de “nova economia”. É a abundância que produz a riqueza. Uma riqueza gerada de forma muito diferente daquela produzida por coisas que, por serem feitas de matéria-prima escassa, eram vendidas cada vez mais caro.
Aqui a lógica é tão esquisita que muita “coisa” (desculpe a forma de falar) é dada de graça, para fazer a rede de usuários atingir uma massa crítica, e depois, sim, cobrar por upgrades e outras coisas que facilitam e amplificam o uso.
É fácil entender por quê. A primeira cópia de um software novo, um Windows qualquer desses aí, custa caro para a Microsoft pois envolve os milhões gastos em desenvolvimento; mas, a partir da segunda cópia, é só o custo do disquete (ou CD-ROM). Quanto? 10-15 US$ no máximo. Tudo o que é intensivo em tecnologia é assim.
Chamamos isso de economia de “retornos crescentes”, para diferençar da idéia tradicional – retornos decrescentes que dizia que quanto mais se usa, mais se esgota a matéria-prima, mais caro fica produzir e vender. Aqui é: quanto mais se usa, mais se tem e mais barato fica ter.
Se você só sabe competir com base em preço, você está morto. Preço baixo (promoções, descontos…) é estratégia válida num mundo de “mercadorias”, mas esse mundo está sendo rapidamente invadido pelo soft, pelo intangível, pela comunicação. Não importa o setor, (mesmo que você esteja em siderurgia, mineração, o que for…) o futuro que já chegou é soft não hard.
Há também o fato de que preço alto pode ser ótima estratégia, mesmo para produtos segunda onda. Há um perfume (Joy) que se anuncia como o perfume mais caro do mundo. O que as pessoas pensam? “Se é o mais caro deve ser o melhor”. É outra variante daquilo: “Se os ricos compram, eles devem saber, afinal são ricos”.
Ah, a alma humana… O cliente paga não pela coisa, mas pelo símbolo. Aqui está o marketing explorando mais uma fraqueza nossa. Você acha realmente que alguém compra um relógio Rolex porque ele marca o tempo com mais precisão que um Timex? Bobagem. Pode negar, mas você compra um Rolex para todo mundo ver que você tem um Rolex. Alfred Sloan sabia das coisas.
Preço também é percepção. Não tem nada a ver com custo. Você compra gravatas Hermés (aquelas que o Collor popularizou) por 100-120 dólares, mas duvido que custem mais que 20 ou 30 para produzir; tudo incluído. Que margem, hein? Por que as pessoas pagam? Porque acham que vale a pena pagar.
Percepção de Valor: Que coisa mais estúpida!
Você vai dizer que há uma certa futilidade na minha argumentação, que ela se baseia num tipo de raciocínio circular, estúpido mesmo: em marketing o que faz sucesso é o que as pessoas compram porque faz sucesso. Certo. Absolutamente certo. É estúpido mas é assim que funciona.
O poder está no símbolo. Moda (isto é: imitação) conta. Vá tirando as cascas da (pseudo) erudição e academicismo dessa coisa e, lá no fundo, você vai encontrar seres humanos inseguros imitando a outros idem. Nada tem valor intrínseco em marketing. Percepção de valor é uma noção arbitrária e essa é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem. A mente humana associa sucesso a mérito. Se está fazendo sucesso é porque deve ter algum mérito. Eu digo: se está fazendo sucesso e porque é bom em fazer sucesso. E o que é preciso para isso? Ter apelo para a mente humana. Ponto.
Desista porque você nunca vai conseguir puxar o fio dessa meada.
E esses sucessos de marketing que se apóiam em métodos para os quais muitos torcem o nariz (mas que são comprovadamente eficazes)? Vendedores, que vendem para vendedores, que vendem para vendedores, que vendem… Bem, dizem que é o outro P (de ponto), ou canal de distribuição, que faz a diferença.
Eu insisto: é a mente.
A Amway por exemplo.
Tudo bem: o produto é correto e o preço é adequado. Mas quem é o cliente da Amway? É outro vendedor da Amway, e o outro P (Promoção) nada tem a ver com o produto físico que se está vendendo: o que se “promove” é o sonho de se tornar um vencedor. O discurso é o seguinte: “Você nasceu para ser vitorioso, não precisa mais ser perdedor. Você não tem que aceitar que o mundo faça isso com você. Não é justo. Veja quanto você pode ganhar. Você tem garra. Olhe o caso do Manoel, aos quarenta e cinco anos vivia duro, hoje tem casa em Angra e BMW na garagem. Você pode ser como ele.”
Reuniões altamente emocionais; depoimentos e testemunhos arrebatadores. Lágrimas e hinos à vontade. Como resistir? O cliente é o vendedor que vende para outro vendedor, que vende para outro, para outro.
É o produto? O preço? O ponto? Não, é o apelo à mente.do vendedor/comprador/vendedor/comprador…
Normalmente não nos sentimos bem com essas coisas assim tão destituídas de “valor intrínseco”. Nenhum marqueteiro gosta de admitir isso. Pergunte e ele vai dizer que acredita mesmo que o produto que está promovendo é realmente o melhor, que ele jamais aceitaria falar bem de um produto em que não acreditasse de fato blá, blá, blá… Mas não existe esse negócio de qualidade intrínseca. Isso é lenda. O animal humano vive mergulhado num oceano de percepções. Nós somos o que percebemos, e isso quer dizer que todos vivemos num mundo virtual, um mundo de nossa própria fabricação. Para o marqueteiro não tem sentido falar em realidade “real”; toda realidade é virtual para ele. Tudo é percepção, e estar consciente disso é o melhor que podemos fazer para não sermos manipulados.
Marketing em si é neutro. Pode levar ao céu ou ao inferno, depende de quem faz.