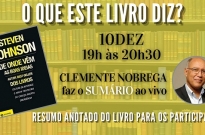Por que coisas ruins estão acontecendo com boas empresas?
Roberto Campos começa um artigo recente (“O salto mortal da Utopia”) identificando – com sua costumeira lucidez – a origem do senso de desconforto que todos estamos vivendo, marca registrada do estado de espírito do século XX na virada do milênio. A raiz de nossa perplexidade está ali.
“A década de oitenta” – diz ele – “marcou uma inflexão decisiva no rumo do mundo. Ocorreram fenômenos como a liberalização econômica internacional, o fim da guerra fria, do equilíbrio pelo terror atômico, e a implosão dos regimes socialistas”.
Para os executivos a perplexidade tem uma causa bem conhecida: o fim de uma certa estabilidade que garantiu nossa tranqüilidade no passado.
Bons tempos aqueles. Era muito mais fácil diagnosticar os problemas da empresa. Como os mercados se moviam devagar, quase parando, as preocupações eram sempre voltadas para dentro. Iniciativas se resumiam a constatações do tipo: “temos que treinar melhor o pessoal; a percentagem de peças rejeitadas em nossa linha de produção está muito alta”.
O pressuposto era o de que bastava mexer dentro da empresa. O mercado lá fora? Esse vai bem obrigado; como sempre.
O turning point que Roberto Campos identifica sacudiu tudo no mundo das relações econômicas, e portanto no mundo das empresas, e com isso dentro das cabeças das pessoas, e assim, mais uma vez , no mundo das empresas, num ciclo que vai se reforçando e cujo efeito final é levar as coisas cada vez mais para longe do nosso controle. Causas e efeitos que se entrelaçam e afetam tudo.
Mais ainda: a tal virada teve seus efeitos amplificados pela chamada “explosão digital” que está reconfigurando todo o mundo dos negócios com base numa “coisa” a que chamam, hmmmm… “informação”. Essa “coisa” escorregou para dentro do furacão em cujo epicentro está um bando de sujeitos assustadíssimos: nós, executivos de empresas.
Falei em controle? É isso mesmo: controlar é uma das funções pelas quais os os managers são pagos. A outra é predizer. Não está dando para fazer direito nem uma coisa nem outra. Essa profissão é dura, amigo leitor.
Está cada vez mais difícil puxar o fio da meada da “coisa certa” a fazer. O que os anos oitenta marcaram foi o fim de uma época de estabilidade ingênua, diria eu. Um mundo em que as coisas eram nitidamente pretas ou brancas; em que era fácil identificar padrões e agir.
O sonho acabou. O mundo que evaporou na década de oitenta deixou em seu rastro um “vale tudo” darwiniano no mercado, um monte de executivos inseguros nas empresas e a proliferação de gurus e metodologias salvadoras (a maior parte de valor duvidoso, para dizer o mínimo, mas enfim, temos de dar a impressão de que estamos tentando algo…).
O pior, porém, não é isso. Além de termos perdido nossas velhas referências – que sumiram de repente – ainda temos que entender certas coisas que… bem… ninguém “normal” pode entender direito, ainda.
Esse negócio de “informação” por exemplo, é interessante, mas que diabo é isso exatamente? Uma salva de palmas para a IBM, por favor.
Você se lembra do que aconteceu com a IBM alguns anos atrás. Nada teve tanta repercussão, tantos comentários, tantas análises. As causas das perdas da IBM e as “interpretações” que foram dadas para sua debacle nem precisariam ser repetidas: o gigantismo da empresa impediu que ela fizesse a leitura correta das circunstâncias, percebendo que o mercado não queria mais os seus mainframes; a arrogância de líder – “inventora” do mercado de computadores – levou-a a fechar os olhos; a burocracia do processo interno de tomada de decisão paralisou a IBM, etc.
Bem, a empresa está de volta – lucrativa e inovadora – e olhando retrospectivamente o que vemos? Vemos que as tais “interpretações”, que eram charmosas e “politicamente corretas” na época, foram na verdade tolas, superficiais e incompetentes. Só um superdotado clarividente teria enxergado o que só ficaria claro mais tarde, e esses caras (os clarividentes) – se é que existem – são raríssimos. Não estão disponíveis no mercado e não podem ser usados como referência para nada. Não sei quanto a você, mas eu detesto essa coisa de ficarem me lembrando a toda hora que eu não sou Henry Ford, ou Bill Gates. Eu sei.
Mas o que foi que ficou claro mais tarde? Quem conta é Peter Drucker (87 anos), outro observador do mundo empresarial cuja argúcia (assim como a de Roberto Campos) só tem aumentado com a idade.
A IBM reagiu exatamente da maneira pela qual uma empresa inteligente teria de reagir. Fez “a coisa certa” mas acabou… perdendo. Na IBM sempre se acreditara que o computador iria replicar o modelo de distribuição de eletricidade: uma central superpotente a qual se plugaria uma enorme quantidade de usuários. Tudo na empresa durante anos e anos teve esse quadro mental como pressuposto. A IBM – um dos maiores sucessos do mundo empresarial em todos os tempos- cresceu em torno dessa idéia.
Mas então, no momento em que o tal modelo parecia consolidado, aparecem dois jovens com o primeiro computador pessoal. Ora, qualquer um vagamente informado sobre computadores sabia que o PC era um absurdo. Não podia dar certo. Contrariava a lógica da computação. Não tinha memória, não tinha velocidade, teria que falhar. A Xerox já tinha chegado a essa conclusão poucos anos antes. Seus pesquisadores haviam construído o primeiro protótipo de PC mas a empresa resolveu não ir adiante com o experimento.
Mas… a tal monstruosidade – primeiro o Apple, depois o Macintosh – chegou ao mercado e as pessoas “não só adoraram como compraram”. Drucker comenta: “ao longo da história, sempre que uma empresa de sucesso foi confrontada por surpresas desse tipo, a reação foi a recusa em aceitá-las”. Quando o CEO da Zeiss viu a nova Kodak Brownie em 1888 ele falou: “É um modismo estúpido. Vai passar em três anos”. Naquela época a empresa alemã era a líder mundial no mercado de fotografia, exatamente como a IBM seria no mercado de computadores um século depois.
Como foi que os concorrentes da IBM reagiram ao PC? Precisamente da mesma forma que a Zeiss. A lista é longa: Control Data, Univac, Burroughs e NCR nos Estados Unidos; Siemens, Nixdorf, Machines Bull e ICL na Europa; Hitachi e Fujitsu no Japão. E a IBM? Bem, a Big Blue – senhora suprema dos mainframes, com faturamento maior que o de todas as suas concorrentes juntas; batendo recordes de lucro a cada ano deveria ter reagido da mesma forma. Era o esperado. Era o lógico.
Mas não. A IBM adaptou-se imediatamente á nova realidade. “Da noite para o dia ela deixou de lado suas políticas, suas práticas (que eram um sucesso; que vinham dando certo há anos), e toda uma cultura empresarial vitoriosa, e criou não um, mas dois times de projeto, que competiram para criar um PC ainda mais simples. Poucos anos depois a IBM tinha se tornado o maior fabricante mundial de PCs e o padrão da indústria”. Drucker é enfático: não há precedente para uma coisa dessas em toda a história dos negócios.
Quem foi aí que falou em burocracia, arrogância, e rigidez? Mas, a despeito de sua incrível demonstração de flexibilidade, agilidade e humildade, pouco tempo depois a IBM estava afundando em ambos os negócios: no de PCs e no de mainframes. “De repente ela não conseguia mais se mover, nem tomar decisões, nem mudar”.
Foi então que apareceram os tais analistas e começaram com essa história de “burocracia arrogante”, ajudando a pavimentar o terreno para uma fieira de modismos que se destinavam a tornar as empresas mais flexíveis: “vejam o que aconteceu com a IBM – eles nos assustavam – o gigante não conseguiu se mover… blá, blá, blá.”
Mas o que aconteceu de fato foi algo completamente diferente. Algo que mesmo os mais perspicazes – como Peter Drucker – só podem perceber depois que a poeira já baixou.
Para a IBM havia uma entidade chamada “computador” que existia desde a década de cinqüenta, mas o surgimento dos PCs invalidou essa idéia. O PC não era aquilo que a IBM se acostumara a chamar de computador. Uma torradeira elétrica é algo completamente diferente de uma central geradora de eletricidade, mas pelo menos torradeiras e centrais geradoras se complementam.
Mainframes e PCs não são sequer complementares, são basicamente competidores.
Aquilo que se define como informação para o PC é o oposto de “informação” para o mainframe: para o mainframe informação é memória, para o desmemoriado PC, informação é software. A IBM tentou combinar os dois e o que aconteceu?
Como PCs eram a parte do negócio que mais crescia a empresa não podia subordiná-los á divisão de mainframes e, pela mesma razão, não podia também manter o foco do investimento no negócio de mainframes. Mas, mainframes eram ainda os grandes geradores de caixa, e por isso, a IBM não podia otimizar o segmento PCs do seu negócio. Percebeu o nó? Claro, perceber depois é fácil. Quero ver é perceber durante.
Sinceramente, quem teria sido competente para decifrar esse enigma enquanto as coisas ainda estavam acontecendo? Predizer e controlar no meio de uma confusão dessas? Vocês estão brincando…
Quando se está competindo na crista da onda da inovação é preciso que se esteja preparado para pagar o preço do fracasso, por mais competente que se seja. Pode ser chato ter de admitir, mas não há saída.
Ok, não há nada de novo aqui. Isso sempre foi assim. Mas hoje qualquer equívoco inocente na interpretação dos sinais do mercado, mesmo em ramos de negócio aparentemente consolidados – “que nada têm a ver com informação” pode significar o fim.
E a leitura “certa” dos sinais, eu insisto leitor, às vezes exige uma competência quase sobrenatural. Não, você não é incompetente. Saia dessa depressão.
Tem mais: essa tal de “informação” – causa e efeito do terremoto da década de oitenta – está mexendo profundamente com os pressupostos da competição em quase todos os ramos de negócio. Não sei qual é o seu, não quero gerar pânico, mas fique atento: o piloto pode muito bem já ter sumido e você não ter notado. Volto a isso adiante.
Ainda o caso IBM. Os “especialistas” estavam equivocados. Não faltou competência, não foi a arrogância ou burocracia, foi a natureza da situação em que a empresa se viu metida, que no curto prazo era irresolvível, como diria aquele nosso (graças a Deus) ex-ministro.
Mas nossos conhecidos “xamãs empresariais”, como não tinham competência para avaliar as sutilezas da complexa situação em que a IBM se encontrava (ninguém podia ter tido, repito), agarraram-se a meias verdades, que transformadas em lucrativas “metodologias revolucionárias” nos foram oferecidas a preços nada módicos. Nós, apavorados, compramos (somos humanos, bolas). Amedrontados com o panorama lá fora, optamos pelo familiar e pelo conhecido e nos voltamos para dentro da empresa.
Exatamente a mesma postura mental do manager dos anos sessenta. Somos realmente muito modernos… Excelência operacional é um pré-requisito para a competição. É o ticket para entrar no jogo. Uma condição necessária, mas não suficiente. Para vencer você precisa de estratégia, e estratégia só se articula olhando para fora com inteligência, artigo raro na praça.
Um dia alguém ainda vai escrever sobre a incrível ingenuidade dos homens de empresa no mundo todo. Homens duros, escolados, bons negociadores, espertos, mas que nessas coisas ou caem nesses “contos do vigário” supostamente sofisticados , ou então ficam fazendo a apologia de livros cuja mensagem se resume a recomendações do tipo: “faça as coisas mais importantes primeiro”. Francamente… O que foi que eu fiz de errado?
Talvez você ache que a competição no mundo dos computadores está muito longe do seu negócio. Bem, que tal enciclopédias? Enciclopédia Britânica. Um dos brand names mais fortes do mundo. Desde 1990 as vendas de coleções da Britânica caíram mais de 50% e a culpa pela devastação é dos CD-ROMs.
O que aconteceu aqui? O preço de uma coleção da Enciclopédia Britânica está na faixa $1.500 – $2.200. Uma enciclopédia em CD-ROM, como a Encarta da Microsoft, custa $50. Pior ainda para a Britânica: muita gente recebe a Encarta grátis juntamente com seus PCs novos.
O custo de produção de uma coleção de volumes da enciclopédia tradicional em papel está na faixa $200 – $300. O de um CD-ROM é por volta de $1,50. Que tal?
Mas o que teriam pensado os executivos da Britânica quando a coisa começou a complicar? Provavelmente eles viram os CD-ROMs como versões eletrônicas de produtos inferiores. O conteúdo da Encarta é licenciado da Funk & Wagnalls, uma enciclopédia vendida em supermercados. A Microsoft apenas colocou um molho visual com ilustrações de domínio público e alguns clips. Já o conteúdo da Britânica é acima de qualquer suspeita. Para os executivos da Britânica, a Encarta era provavelmente um brinquedo, não uma enciclopédia.
Tudo muito razoável. Mas será que os pais compram enciclopédias para seus filhos com base em seu conteúdo intelectual mesmo? O artigo de abertura da última Harvard Business Review diz que não. Os pais compravam a Britânica motivados por um desejo de fazer a “coisa certa” para a formação de seus filhos. E qual é a “coisa certa” hoje? É comprar um computador para a molecada.
Então o competidor verdadeiro da Britânica é o computador. E junto com o computador vem uma dúzia de CD-ROMs, um dos quais, na opinião dos clientes (a única opinião que conta) serve perfeitamente como substituto para a Britânica. Conteúdo intelectual? Pode esquecer. Quando a ameaça ficou evidente a Britânica criou uma versão em CD, mas para não desmotivar sua força de vendas decidiu oferecê-la gratuitamente como brinde a quem comprasse a coleção tradicional. Quem optasse só pela versão em CD teria que pagar $1000.
Você pode adivinhar o que aconteceu. As vendas continuaram em queda. Os melhores vendedores saíram, e o proprietário da Britânica – um trust controlado pela Universidade de Chicago – finalmente vendeu e saiu fora. O novo management está tentando começar tudo de novo reconstruindo o negócio a partir da Internet.
Repare só: o custo do conteúdo editorial da Britânica representava pouco – só 5% dos custos totais. O grande custo era o de sua força de vendas. A vulnerabilidade da Britânica estava em que ela dependia demais da venda pessoal, e seus vendedores não tinham como argumentar contra seu novo concorrente: um computador (E um computador desligado! Dentro de uma caixa!).
Olha, assim como enciclopédias muitos outros negócios dependem de venda pessoal: automóveis, seguros, imóveis, viagens… (Ei leitor, você está suando ou é impressão minha?)
Os pioneiros na instalação de caixas automáticos (ATM – Automated Teller Machines), pensavam nelas como uma forma de automatizar duas funções básicas: depositar e sacar dinheiro. Na verdade as ATMs foram introduzidas quase que como punição para correntistas de baixo saldo médio; os demais – o pessoal com dinheiro – seria privilegiado com o atendimento pessoal face a face nas agências.
Mas a coisa ganhou uma dinâmica própria e os clientes em geral passaram a gostar muito mais dos caixas eletrônicos do que dos funcionários das agências. Todos os clientes. Os ricos incluídos. As ATMs eram muito mais convenientes; acessíveis 24 horas, etc. Havia oportunidades de cortar custos que o Citi e outros bancos logo notaram, e de repente as ATMs explodiram formando uma rede à qual todo tipo de pessoa tinha acesso para quase tudo: transacionar empréstimos, checar saldos, etc. Mas, à medida que a rede continuava a se expandir aconteceu algo totalmente inesperado: os clientes não abriam mais mão da nova tecnologia, mas não se importavam com o banco. Isto é: a verdade predominante do mercado passou ser: “eu quero acesso às ATMs, o banco não importa. Abro conta em qualquer banco que tenha ATMs”.
Muitos bancos entendem melhor hoje as implicações estratégicas das ATMs, outros ainda não. A poeira ainda não baixou na indústria bancária, portanto não dá para fazer ainda nenhuma “análise genial”. Mas é interessante ficar olhando. Haverá lições a serem extraídas daqui também, e sejam quais forem os detalhes, elas implicarão na reconfiguração radical dos bancos de varejo com base, mais uma vez, nessa coisa chamada “economia da informação”; esse monstro multifacetado que apavora mesmo os competidores mais talentosos e de mais nome.
Seduzidos e abandonados (em que negócio sua empresa atua mesmo, leitor?). Computadores, enciclopédias, bancos, automóveis também. O pessoal de Marketing tem apanhado um bocado para desvendar os segredos e o potencial da Internet: é veículo para expor mensagens e gerar “recall”? É oportunidade para qualificar prospects e gerar “leads” de venda? É meio para venda direta? O que é afinal a Internet em termos de Marketing?
No mundo da mídia convencional o pressuposto é: coloco minha mensagem num veículo de comunicação adequado ao público que quero atingir, e pronto. Quanto mais gente vê mais compradores em potencial eu estou atingindo. E na web, qual deve ser o pressuposto? Não sei, mas certamente esse não era em 1994.
A Volvo americana foi a primeira fabricante de carros a estabelecer presença na web no fim de 94. Produtora de carros de luxo, queria dar aos potenciais compradores uma fonte a mais de informações. O raciocínio foi perfeitamente lógico: só 6% da população adulta dos EUA teria dinheiro e inclinação para comprar um carro de $30 000. O chamado perfil psicográfico dessa gente se encaixava perfeitamente com o dos primeiros surfistas da web: experimentadores de novidades, ligados em tecnologia, educados, e com algum dinheiro. A Volvo gastou $100 000 desenvolvendo uma espécie de folheto de vendas eletrônico para a web. Tudo perfeito segundo a lógica de Marketing que conhecemos.
O resultado? Vendas zero. E mais: quem entrou no site usou o mecanismo de interação que estava disponível nele, o e-mail, não para encomendar Volvos novos mas para reclamar de pequenos defeitos dos Volvos que já possuíam. A legislação de alguns estados americanas exige que essas reclamações sejam respondidas num certo tempo, se não o fabricante fica obrigado a devolver o dinheiro do comprador. Como a Volvo não tinha ninguém para responder às mensagens por e-mail, seu site estava funcionando como uma forma, não de aumentar vendas, mas de diminuir vendas já fechadas!
Você nota o mesmo padrão: tudo feito certinho, de acordo com os manuais, mas o resultado… Assim, mesmo não entendendo direito o que está acontecendo no mundo, uma coisa dá para afirmar: os manuais estão errados. Aqui a coisa parece ter tido a ver com a natureza da Internet o ícone perfeito da era da complexidade/perplexidade. A rede que não tem dono, que ninguém projetou ou previu. Um ET feioso, desajeitado mas envolvente e provocante, que de repente passa a seduzir todo mundo, mas abandona logo os mais apressados (cuidado “Enciclopedia Britânica”, já que sua nova estratégia é apoiada na Internet é bom lembrar que tem havido “choro e ranger de dentes” aqui também).
Três anos depois, a coisa hoje está menos caótica, e a web parece começar a dar sinais de afinal ser algo inteligível em termos de marketing (ver Business Week de 6 de Outubro de 1997 “Web Ads start to click”). Também leio na Fortune de 29 de Setembro que no primeiro trimestre de 1997, 16% dos compradores de carros e caminhões novos da GM usaram a Internet como parte do processo de compra. Se a GM com seus 176 bilhões de faturamento e está nisso, é bom ficar de olho. Lembra do inferno astral da Enciclopédia Britânica por depender demais da venda pessoal? A GM também depende. Pode acreditar: a poeira aqui também ainda não baixou. Vá com calma.
Entre parênteses: a GM, anos atrás, foi outra “Geni” do mundo dos negócios, em quem – de forma igualmente simplista – jogaram todas as pedras do mundo, taxando-a de “arrogante”, “burocrática”, etc. A empresa hoje no entanto parece estar bem atenta aos possíveis significados escondidos nas entranhas do monstro da economia da informação.
E no Brasil? As múltiplas tonalidades da perplexidade verde e amarela. Se a vida dos executivos lá fora é dura, em nosso país a coisa tende a ser pior. Vivemos todas as incertezas do mundo deles somadas às peculiaríssimas incertezas brasileiras, mais tropicalizadas digamos, mas não menos apavorantes.
Roberto Campos lembra – no artigo que citei no início – que a onda de transformações econômicas nos pegou em cheio aqui “depois de vivermos muitos anos de costas para o mundo… pouco a pouco fomos ficando à beira da inviabilidade diante das exigências competitivas cada vez maiores do sistema internacional, mudanças que teriam sido feitas com alguma facilidade ao longo das duas últimas décadas, estão agora sendo comprimidas, marteladas, em poucos anos, meses talvez em alguns casos”.
Assim, temos que conviver com todas as incertezas geradas pela tal “economia da informação” mais aquelas “made in Brazil”, tipicamente “segunda onda”. Aqui ainda nos deslumbramos com o fato de a inflação não ser mais 80% ao mês, uma conquista relativamente recente para nós; índios ainda ocupam gabinetes de ministros reivindicando terras, enquanto o capital internacional – representante daqueles gigantes que estão fatiando o mundo – trava, via privatizações e outros investimentos, uma briga de foice pelo nosso mercado.
O preço que estamos pagando é alto mas desconheço alternativas. Talvez o melhor que possamos fazer hoje, seja reconhecer a complexidade dos tempos e a falência das respostas e explicações que nos confortaram no passado. Essa é a pré-condição para podermos nos engajar na construção desse futuro que ninguém entende direito ainda, mas que é irreversível. Já chegou.
No início da década de sessenta havia um seriado de TV chamado “Papai Sabe Tudo” (“Father knows best”). Passava no horário nobre. Era o supra-sumo da ingenuidade e babaquice, mas, reconheçamos, nós gostávamos.
As soluções eram sempre simples, havia sempre uma “coisa certa a fazer”, a vida era previsível e tinha contornos nítidos; era só fazer as coisas direito que a felicidade viria.
Para entendermos o que se passa a nossa volta, talvez o primeiro passo a dar seja “dentro de nossas cabeças”. Temos de começar encarando um fato: “papai sabe tudo” morreu.
Fontes:
- O artigo de Roberto Campos “O salto mortal da utopia” saiu em 5.10.97, nos jornais que publicam sua coluna.
- A análise de Peter Drucker fez o caso IBM aparecer na Harvard Busines Review de Setembro-Outubro de 1994: “The Theory of the Business”.
- As desventuras da Enciclopédia Britânica são narradas e comentadas por Philip B.Evans e Thomas S. Wurster – os dois executivos principais do celebrado Boston Consulting Group – na Harvard Business Review de Setembro-Outubro de 1997: “Competing in the Information Economy”.
- A história da introdução das ATMs e os problemas subseqüentes dos bancos é narrada por J. Rayport e J.J. Sviokla na Harvard Business Review de Novembro-Dezembro de 1994: “Managing in the Market Space”.
- As decepções iniciais da Volvo na Internet foram contadas por Evan Schwartz na Wired de Fevereiro de 1996: ” Advertising Webonomics”.
- Veja também: ” Web Ads Start to Click”- Business Week – Outubro de 1997 e “Can GM sell cars on the Web?” – Fortune – Setembro de 1997.
*Artigo publicado na revista Exame de 11/1997.