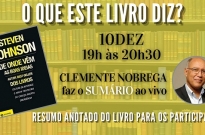O que faz um gestor?
Para você qual a mais importante inovação do século XX? (É só palpite, pode chutar). Antibióticos e vacinas talvez. Ou a liberação da energia do interior da matéria? Telefone? As tecnologias digitais? Internet?
Nenhuma dessas. A inovação mais importante foi a que possibilitou que outras inovações produzissem seus efeitos. Gestão. Uma disciplina revolucionária.
É assim que começa – “O que é gerenciar e administrar”, de Joan Magretta, ex-editora da Harvard Business Review (Campus, 2003). Um pequeno livro que The Economist considerou “um animal raro na literatura de negócios: ao mesmo tempo lúcido, inspirador e honesto”. O livro é sobre a disciplina da gestão – algo associado a uma mentalidade, não a técnicas específicas. Sua originalidade é a idéia de que gestão é para todo mundo – pessoas e organizações com e sem fins lucrativos – não é só para gerentes profissionais.
Qual a essência dessa tal mentalidade gestão?
Pense no projeto Manhattan: “temos de produzir uma bomba atômica antes dos nazistas”. Para isso seria necessário mobilizar talentos de centenas de cientistas de várias nacionalidades, usando descobertas da física teórica que mal tinham 5 anos. Aconteceu. Sem gestão não teria acontecido. Idem o projeto Apollo; em 1960, John Kennedy prometeu: “colocaremos um americano na Lua antes do final da década”. Em 1969 tinha um lá. Certo, sem gestão não teria havido nem pirâmides nem catedrais, mas a idéia de que existe uma disciplina para ela – um corpo de conhecimento codificado – é da segunda metade do século XX.
Gestão não põe foco no esforço, e sim no resultado. Parece banal? Não é.
Comprometimento com resultados é o centro da coisa. Tudo o que implica em organizar com um propósito precisa de gestão. Tudo. Todo mundo vai ter de ser “alfabetizado” em gestão. Por exemplo: se desejarmos fazer escolhas mais inteligentes sobre nossas carreiras, devemos aplicar a disciplina da gestão a nós mesmos. Quer dizer, nossas idéias sobre “emprego” devem ser submetidas a um “olhar de gestor”. Imagine que você está em busca de um emprego. Como a disciplina da gestão o aconselha a agir? Olhe para fora. Ninguém mais oferece empregos. “Não há vagas”, é o que dizem tabuletas nas portas de todas as empresas do mundo. Portanto, “procurar emprego” não pode ser procurar “vagas”. Você deve partir daquilo que as empresas precisam. Todas precisam de cabeças. Você tem de se ver como um produto querendo ser comprado pelo mercado de trabalho; não pode transmitir a mensagem de que é um parafuso em busca de uma rosca. Tem de se apresentar como a melhor forma da empresa conseguir que algo seja feito. Isso é o ponto de partida da mentalidade gestão: valor é definido por quem compra, não por quem vende. É fácil captar isso intelectualmente, mas agir em correspondência é difícil. Não me xingue (ainda), sei que você não agüenta mais ouvir que “valor tem de ser definido do ponto de vista do cliente”, mas a questão não é “saber”, a questão é o que você faz. Gestão é fazer acontecer. Não há nada mais freqüente no mundo empresarial do que a queixa: “temos a estratégia e o plano de ação, mas não conseguimos executar”. Sem execução, nada feito, você é um mau gestor porque gestão é resultado, não esforço. Dizem que “se você pode sonhar, você pode fazer”, mas sonhar ou não, não é o relevante para a mentalidade gestão. O gestor tem é que fazer acontecer, se tiver sonhado antes, ótimo. Freqüentamos cursos, acumulamos “saberes” – mas o requisito para fazer acontecer não é curso, é cabeça de gestor. Gerar valor é o ponto de partida da gestão. É natural colocar o foco no esforço, nos inputs. É natural e errado. Gestão existe porque o que tem de ser feito nunca surge naturalmente.
De fora para dentro. No final dos anos 90, a Silicon Graphics investiu milhões para desenvolver a TV interativa. Os engenheiros da empresa eram apaixonados pela tecnologia, e juravam que o público iria adorar. Aposta errada. A TV Interativa foi um fracasso. Jack Welch é o mais celebrado dos gestores contemporâneos. Quando ele começou, a GE era uma das maiores empresas industriais do mundo, agora 80% de seus lucros vêm de serviços. O negócio de locomotivas da GE, um de seus mais antigos, ilustra a mudança. Desde 1895 a GE fazia locomotivas cada vez mais eficientes. Quando olhou para as estradas de ferro com olhos de cliente, Welch mudou as coisas. Notou que valor não está em locomotivas maiores e mais potentes, está na habilidade de transportar mais carga a menor preço. Locomotivas em serviço mais tempo. A mudança de inputs para resultados alterou tudo. A GE introduziu sistemas de despacho computadorizados para gerenciar as frotas com mais eficiência. Novos equipamentos nas locomotivas permitiam saber a qualquer momento onde cada trem estava. Quando um quebrava, ninguém precisava ligar pedindo ajuda, a GE ia lá e colocava a máquina de novo em serviço. Mudança de produtos para soluções tem sido a marca registrada das melhores empresas. E dá mais dinheiro também. A IBM dos anos 90 fez a mesma coisa. Soluções, não computadores.
Uma empresa, para ter o direito de existir, tem de gerar valor econômico (preço menos custo), uma organização sem fins lucrativos tem de gerar valor social, digamos. É mais fácil gerenciar uma empresa orientada para lucro porque seu critério de sucesso é pragmático: dinheiro. Valor social é mais fluido. Quem é o cliente do Fome Zero, os famintos ou os doadores? Raramente é óbvio. Gestão começa com um acordo sobre um propósito, e isso é notoriamente mais difícil para organizações non profit porque lhes falta a disciplina que um cliente pagante obriga a ter. Como não têm clientes óbvios, as sem fins lucrativos têm de começar impondo-se a disciplina de uma missão. “Qual o valor único que existimos para criar? Quem vai nos dar suporte para cumprir essa missão, e como poderemos alinhar seus interesses com ela?”. Missão é a razão de ser das sem fins lucrativos, não clientes. O que vale para o Fome Zero vale para um museu ou para um zoológico. Quem é o cliente de um museu – os freqüentadores ou os mantenedores? E o dos bancos de sangue da Cruz Vermelha: os doadores, os hospitais ou as pessoas que vão receber o sangue? Se definirmos como cliente aqueles que fazem as doações, tiramos a atenção daqueles que recebem o benefício. Todas as sem fins lucrativos têm de gastar tempo e energia para chegar a um acordo sobre isso, senão vão fracassar. Voltando ao zôo, o “cliente” pode ser quem menos se espera.
O zoológico de Nova York não tem ursos panda, se tivesse, mais gente iria lá. O zôo está criando valor ou não? Depende da missão. Quando foi criado, a missão era proteger a vida selvagem, educar o público e promover o estudo de zoologia. Há menos de mil pandas no mundo, e a população está diminuindo. Resolveram, num certo momento, trazer um casal de pandas. Acontece que as fêmeas da espécie só ovulam uma vez por ano e, quando a fêmea ovulava, o panda macho não queria nada, pois ainda não estava na idade. Se a missão é preservar espécies ameaçadas, qual o sentido em manter um casal de pandas que não transa? Bem, mas os pandas atraem público, lembre-se, e no debate que se seguiu, alguns argumentavam que era preciso mantê-los lá “porque só protegemos aquilo que vemos”. A decisão acabou sendo: nada de pandas. Mantê-los faz mais mal à espécie do que bem. O “cliente” aqui é mais o panda que o visitante ou o mantenedor, entende? Nessas horas, só um propósito claramente definido faz o gestor tomar a decisão certa diante de escolhas difíceis. Gestão é sempre sobre escolhas, nunca é sobre ser tudo para todo mundo.
Pensar “cliente” ajuda pouco às sem fins lucrativos, elas têm de pensar “missão”; razão de ser; propósito. É isso que mantém o empreendimento no rumo. O programa Fome Zero tem sido um descalabro gerencial. Até hoje se discute forma e conteúdo. Qual a missão do Fome Zero? Inclusão social diz frei Beto, o “assessor religioso”. Distribuir alimentos, diz José Crazyan… Desculpem, Grazziano, o “gestor” (aquele das contas bancárias secretas). Na pressa de anunciar um programa popular, não definiram o básico. Inclusão social é diferente de distribuição de alimentos. Da mesma forma que cotas para negros em universidade não significa mais representatividade social para os negros (podem, perversamente, significar até o contrário). Urso panda no zôo atrai visitantes, mas não é compatível com preservação de vida selvagem. É sutil. Não se trata de vontade política, trata-se de cabeça gerencial. Gestão vai contra tendências naturais, e é exatamente por isso que é importante. Se fosse natural todo mundo fazia. O herói dos gestores não é o Capitão América, é o MacGyver: foco absoluto no resultado a ser obtido com os recursos que estão disponíveis.
Uma boa proposta de valor é uma história, uma trama que faz sentido. Chamamos essa trama de “modelo de negócio”. Toda boa história tem personagens bem delineados, motivações plausíveis e trama bem amarrada.
1992. A Eurodisney abriu com projeções de ganhos fantásticos. As ações subiram a 150 francos. Dois anos depois teve de mudar radicalmente (o que incluiu até o nome, virou Disneyland Paris) – as ações estavam a 30 francos e a quebra era iminente. Todo mundo conhece personagens e temas Disney, mas os europeus (franceses então) não aceitaram tão bem o modelo de negócio do parque. A teoria era que os visitantes gastariam o mesmo tempo e dinheiro fazendo as mesmas coisas que seus equivalentes na América. Aposta errada. Europeus não ficam “beliscando” o dia inteiro como em Orlando. Todos parecem querer sentar-se para almoçar e jantar nos mesmos horários e nos mesmos lugares. Filas enormes. Clientes irritados. Serviço ruim. O sucesso só veio depois que o modelo de negócio foi mudado radicalmente.
Criar um modelo de negócios novo não é diferente de se escrever uma nova história. Veja um exemplo brilhante (do livro):
A American Express inventando o cheque de viagem. No início do século passado, quando viajava, você tinha de levar cartas de crédito de um banco do país de origem para trocar por dinheiro em outro banco no de destino. Lento e burocrático. Os cheques de viagem mudaram esse enredo com um modelo que motivou todos os atores envolvidos a jogar o novo jogo. Para os clientes o valor era cristalino: por uma pequena taxa, compravam segurança (os cheques eram segurados contra perda e roubo) e conveniência (eram amplamente aceitos no comércio). Para os comerciantes, também personagens – chave nessa história – era igualmente um bom valor, porque podiam confiar no nome American Express, e porque ao aceitar os cheques atraíam mais clientes. Quanto mais comerciantes aceitavam os cheques, mais comerciantes ficavam motivados a aceitá-los. A American Express descobriu um negócio sem risco porque os clientes pagavam antecipadamente. A trama ficou mais emocionante ainda quando ocorreu algo totalmente inesperado (como nas boas histórias policiais). Em quase todas as formas de comprar e vender, quem vende tem de pagar os custos associados ao produto antes de vendê-lo. Investem dinheiro (freqüentemente emprestado), e ficam rezando para que sua história faça sentido e o público compre. A American Express inverteu isso. Como as pessoas pagam pelos cheques antes (geralmente, bem antes) de usá-los, ela realizou o sonho de todo banqueiro – empréstimos (sem juros!!!) de seus clientes. Bom exemplo de sonho realizado primeiro, e sonhado depois. Mais ainda: uma fração não desprezível dos cheques nunca era descontada, a American ganhava no float e ganhava de novo nos cheque não usados. A história é clara e irresistível para todos os envolvidos. Percebemos quem são os personagens, porque eles se comportam como o fazem, e qual a lógica econômica que dirige a trama e faz o sistema ser auto-sustentável.
Por definição, um modelo de negócio de sucesso representa uma maneira melhor de se fazer algo. Pode ser melhor para um grupo de pessoas, ou pode substituir completamente a forma antiga de fazer. Pense na e-Bay, empresa pontocom de leilões, que inventou um método campeão de colocar em contato quem quer comprar e quem quer vender todo tipo de bugiganga. Pequenos comerciantes transformaram-na em seu canal de venda. Sem dinheiro para marketing, eles pagam alegremente o fee que a e-Bay cobra. Fornecem as mercadorias e a e-Bay os clientes. Todo mundo ganha. A Dell, montando um sistema para eliminar o intermediário na comercialização de PCs, agregou valor para todos os personagens. Ao ser imitada em menor escala pelos demais fabricantes de PC, a Dell pôs em perigo um setor inteiro: os distribuidores, que no passado controlavam a indústria (faturamento de US$ 75 bi em 2000, hoje está na UTI). Não há lugar para esses personagens na trama que Michael Dell criou. Modelos de negócio vitoriosos têm personagens bem delineados, cujo comportamento é plausível. É como numa história policial – a quem interessa o crime? Todos têm interesse no “crime” quando o modelo de negócio é bom. Agora, histórias de fracasso geralmente apresentam personagens dos quais se espera comportamento sem lógica. Você não teria paciência com um enredo desses e sairia do filme no meio. Magretta conta a história da Priceline Webhouse Club, uma das pontocom que virou pó nos últimos anos. O CEO, Jay Walker, tentou expandir para o varejo o conceito de “você dá seu preço” já usado para vender passagens de avião. A história que ele tentou contar foi a seguinte:
Pela Internet milhões de pessoas diriam quanto estavam dispostas a pagar por, digamos, um frasco de manteiga de amendoim. Dariam o preço, mas não poderiam escolher a marca. A Webhouse juntaria todos os pedidos e iria a uma grande empresa do setor alimentício (Nestlé, Kraft Foods) com a proposta: “abaixe um dólar no preço que nós compramos um milhão de frascos essa semana”. O mesmo valeria para gasolina, fraldas descartáveis, sabonete, o que fosse. O que deu errado na história? Walker assumiu que empresas como a Procter and Gamble, Kimberly Clark, Exxon, teriam interesse nesse jogo. Mas por que haveriam de ter? Essas empresas gastaram bilhões de dólares para nos convencer de que sua marca é melhor. Lealdade de marca é tudo para elas. Os consumidores da Webhouse queriam só preço, dane-se a marca! Quer dizer, os fornecedores teriam de ajudar a Webhouse a puxar para baixo tanto seus preços como suas identidades de marca tão duramente construídas. Faz sentido? Não.
Empresas sem fins lucrativos precisam de modelos de negócio? Claro. Um bom modelo ajuda as pessoas que dirigem as organizações a ver o sistema como um todo coerente. Valor é um sistema. Olhe para qualquer ONG de sucesso e você vai ver todos os elementos críticos de um bom modelo de negócios: personagens bem definidos, como motivos plausíveis, relacionando-se numa trama que faz sentido. O quase apagão de dois anos atrás, ao contrário, mostrou claramente personagens de quem se esperavam comportamentos incoerentes com o que eram – investidores, empresas de geração e distribuição, agencia reguladora. A história de uma não encaixa com a da outra. Enredo sem sentido.
Para lidar com a competição você precisa de uma estratégia. Estratégia é fazer melhor sendo diferente. Guarde isso.
A Wal Mart faturou mais de US$ 240 bi ano passado. Tem 1.3 milhões de empregados. É o maior empregador em 21 estados americanos. Num só dia de 2002, vendeu US$1.42 bi, mais que o PIB de 36 países do mundo. Pretende crescer este ano o equivalente e uma Microsoft, ou Dow Chemical, ou Pepsi Co. Escolhe você. Se suas perdas anuais por roubo, estimadas em US$ 2 bi, fossem incorporadas numa empresa, ela seria a número 694 na lista das 1000 da Fortune. Desde que seu fundador morreu, há vinte anos, o retorno médio sobre o patrimônio foi de 33% e sobre as vendas 35%. Chega? O que a Wal Mart (a maior empresa do mundo e a mais admirada dos EUA) faz diferente? O modelo (que não foi a Wal Mart que inventou), aplica a lógica do supermercado à venda de todo tipo de mercadoria – roupas, utilidades domésticas etc. A Wal Mart, porém, faz diferente: começa pela localização das lojas (enormes, em cidades minúsculas que os competidores ignoravam), ênfase em marcas nacionais e não marcas próprias, uso intensivo de tecnologia para saber em tempo real quanto cada loja está vendendo, logística, uso limitado de encartes e propaganda etc. Fácil descrever, difícil executar. Gestão. O valor criado é enorme – para os clientes, para os donos, para os empregados.
Estratégia boa é sempre difícil de imitar. Ninguém conseguiu ser Dell na escala em que a Dell é Dell, entende? Competidores tentam a venda direta, mas não podem abandonar seus canais tradicionais de repente sob pena de perder tudo. Quem quer ser tudo para todos sempre perde (K Mart, por exemplo). Para as sem fins lucrativos, ser melhor fazendo diferente é a chave para cumprir sua missão. Com recursos escassos, têm de assegurar o maior retorno social possível para cada tostão gasto. Escolher o que não fazer é tão essencial como escolher o que fazer, e isso vale para países também. Se a Wal Mart continuar a crescer como vem fazendo (15% ao ano), e o Brasil (errando em suas escolhas) ficar no 1%-2%, o “PIB” da Wal Mart passa o nosso rapidinho. Claro, claro, empresas não são países, eu sei; mas caramba, que coisa hein!?
Dada nossa missão, como nossa performance será medida? Essa é uma das coisas mais difíceis, mas sem definir isso não há gestão. O setor social está sob permanente risco de fazer bobagens aqui. Grandes desafios do novo governo brasileiro estão no âmbito do gerencial. Onde ele acertou até agora foi onde usou melhor a mentalidade gestão (área econômica: métricas claras, metas idem, decisões pragmáticas) e onde andou pior foi onde ela faltou: área social em geral. Esse tema é recorrente. No início do século passado, Henry Ford entrou em conflito com os investidores da Ford Motor Company por não conseguirem acordo sobre a melhor maneira de medir o sucesso do empreendimento. Os investidores queriam o maior lucro por carro e poucos carros vendidos, Ford queria menor lucro unitário e a maior quantidade possível de carros vendidos. Depois de se tornar majoritário, Ford implementou sua estratégia. Foi processado por isso, mas estava certo. Ele escolheu a métrica que fazia sentido para seu propósito: fazer carros para as multidões. Uma história recente é a da Nasa. No final dos anos 90, pressionada por cortes de orçamento, a ênfase da agência espacial mudou de projetos bilionários que duravam uma década, para projetos mais curtos e baratos. A definição de sucesso era “mais rápido, mais barato e melhor”. OK. “Bom, bonito e barato” pode ser bom enredo para escola de samba, mas é problemático no mundo da gestão. Em dezembro de 1999, o Mars Polar Lander espatifou-se contra o solo de Marte (meses antes outra nave tivera o mesmo destino). Isso sem falar na catástrofe recente do ônibus espacial Columbia. Não havia nada de errado com os objetivos. Falta de dinheiro é um fato concreto. Mas faltou gestão para impedir que eles se tornassem um fim em si mesmos (um dos defeitos que provocou o choque contra a superfície de Marte foi um erro banal na conversão do sistema inglês para o sistema métrico). Você não pode gerenciar sem métricas, mas também não pode aplicá-las sem refletir muito intensamente sobre o quanto elas reforçam seu propósito. Sam Walton não deixava que as despesas de compradores da Wal Mart em viagens fossem maiores que 1% do que se estava comprando. Jack Welch estabeleceu a famosa regra para as unidades de negócio da GE: “se você não é número um ou número 2, conserte, feche ou venda”. Depois, em meados de 1990, pediu aos gestores que redefinissem seus mercados em termos mais amplos, de modo a que não tivessem mais de 10% deles – e que, em seguida, traçassem um plano para aumentar essa participação. Ele sabia que as pessoas tendem a inventar maneiras “criativas” para demonstrar que seus desempenhos são melhores do que realmente são.
Medir desempenho só faz sentido quando há propósito claro. Qual a missão de um museu? Bem, tem sido o de guardião da cultura, depósito de obras de valor. Mas que tal definirmos museus como promotores de cultura, responsáveis por aumentar o número de visitantes? Muda tudo. As medidas de desempenho serão outras. Hoje, para desespero de alguns, não são incomuns desfiles de moda e até exposições de carros e motos em saguões de museus.
O que é sucesso para o setor de emergência de um hospital? Será o número de pessoas que sobrevivem a ataques do coração? Ou a rapidez com que são atendidos? Ou alguma métrica que combine os dois?Já reparou como no setor público a falta da mentalidade gestão faz com que sempre se coloque o foco no esforço e não no resultado pretendido? Um novo crime chocante, e lá vem a lengalenga: “vamos aumentar o efetivo; já abrimos concurso” – mas quanto se pretende de diminuição de crimes? Ninguém diz. Não interessa saber que criaram mais uma comissão, ou que estão trabalhando noite e dia. Isso é irrelevante do ponto de vista gerencial. É input. Em gestão o que interessa são resultados. Para isso temos de traduzir propósito em medidas de desempenho. É sempre mais fácil medir o que você põe no sistema do que o que você quer obter como resultado de seu esforço. É mais fácil, mas é medíocre. No sistema educacional, enfatiza-se o número de salas de aula ou bibliotecas, ou horas de aula – mas não se fala do tipo de pessoa que você quer que o sistema produza. Se o resultado que se espera do sistema é um cidadão produtivo, como você mede o sucesso do sistema educacional? Se o que se deseja na luta contra a segregação é o aumento de participação dos negros, como eu meço? Obter resultado em qualquer coisa implica primeiro em concordar sobre aquilo que você está tentando obter, e, depois, em traduzir essa coisa em medidas concretas de desempenho.
Todo gestor tem que ter um pé no presente e outro no futuro. A Kodak está vivendo exatamente esse dilema diante da fotografia digital. Será que vai dar tempo de fazer a mudança? Processamento de imagem tradicional é que fez da Kodak o que ela é. Em 1999, 80% de sua receita e quase todo o seu lucro veio daí. A empresa está gastando US$ 500 milhões por ano em pesquisa para processamento digital. Seu desafio é estar dentro do jogo que será jogado amanhã, sem matar a vaca leiteira de hoje. A Monsanto apostou em biotecnologia e fez tudo certo, mas não levou em conta a magnitude da reação aos alimentos geneticamente modificados. Foi vendida e o CEO demitido. Faz parte. Empresas do setor social raramente têm esse olhar para o futuro; suas demandas são tais que cada centavo é canalizado para o hoje mesmo. Isso estimula o curtoprazismo dos políticos e os tornam inerentemente ineficientes como gestores.
O mais importante primeiro. Quando você ouve a governadora dizer que “o grupo de trabalho vai atacar 100 prioridades para acabar com a violência”, pode desconfiar. Um gestor sabe que resultado sempre depende desproporcionalmente de se fazer um pequeno número de coisas realmente bem. Os clientes de uma empresa não são todos iguais, alguns valem mais e têm de ser tratados diferente. Políticos são eleitos prometendo tudo a todos, mas para obterem resultados não podem dar a mesma prioridade a tudo. É claro que o ministério da cultura e o da pesca (Pesca? Nossa!) são menos prioritários que o da economia.
Em assistência médica (que é um negócio enroladíssimo) esse tipo de questão é comum. A Humana descobriu que 10% de seus pacientes geravam 80% de seus custos. Entre os maiores geradores de custo estão os portadores de um certo tipo de deficiência cardíaca (que custa ao país US$ 17 bi ao ano). A Humana decidiu gerenciar essa doença. Enfermeiras acompanham os pacientes ligando para eles, discutindo sua medicação e induzindo-os a procurar cuidados preventivamente. A gestão do custo é um a um. A taxa de mortalidade na Humana caiu à metade da média nacional. Mas nada é tão simples. Ao colocar mais gente para trabalhar nesse programa, a empresa desviou recursos de outros pacientes. Pessoas perderam benefícios com os quais estavam acostumadas. Processaram a Humana e ganharam 80 milhões de dólares. Alocar recursos escassos é da essência da gestão. Tem que ser feito, mas não é indolor. Questões intrincadíssimas surgem sempre, e opções têm de ser feitas. Vamos ter um curso completo disso agora com as reformas da previdência e tributária no Brasil. Será um excelente teste de nosso avanço em mentalidade gestão. Essa mentalidade, não nos iludamos, conflita com política em muitas instâncias. Política é a arte do compromisso. Gestão é a arte de escolher um caminho quando se chega à encruzilhada. Acomodação pode ser essencial em política, mas sempre corrói a performance de organizações. Em política há vantagens em tentar ser tudo para todos (ganha-se eleições assim), em gestão isso nunca é verdade.
Tudo em gestão é sobre pessoas e valores. As melhores coisas da vida podem não ter preço, mas têm custo. Gestão pode fazê-las menos custosas. A mentalidade gestão fará efeito no Brasil, não quando uma nova classe política surgir, mas quando nós, como povo, conseguirmos definir melhor o que é valor para nós e quanto estamos dispostos a pagar. Quando estivermos dispostos a enfrentar a realidade de que temos de fazer escolhas para atingir nossos objetivos. É assim que gestão funciona. Para empresas, pessoas e países também.
*Versão expandida do artigo “O que faz um gestor?”, publicado na revista Exame de 05/2003.